“Eu não ligo muito para a diferença entre raças e nações. Mas a partir do momento em que eu as considerar um risco ao meu bem estar e a paz fictícia que todos almejamos na vida, a situação muda(…). Os maus se aproveitam de coisas assim para se disseminar e se infiltrar. Bolsonaro não raciona palavras, e é infeliz em certos comentários. Mas ele tem o intuito de atacar e impedir os maus feitores. Eu não faria diferente. Eu tenho medo.”
Esse comentário foi postado como reação à minha crítica à frase do Dep. Fed. Jair Bolsonaro de que os refugiados sírios que estariam chegando no Brasil seriam “escória”[1]. Achei o comentário emblemático, não por ele defender o Bolsonaro, mas por revelar um sentimento, que na minha leitura, é comum entre uma parcela da população que se sente amedrontada, seja pelo fim da hegemonia da moralidade cristã na legislação brasileira, seja pela crescente ideologização da vida pública. Desde a guerra eleitoral do último pleito é crescente o discurso do medo. Medo de que o Brasil se afunde em um regime ditatorial de esquerda. Medo de que o Brasil restrinja as liberdades individuais. Medo de que a moral cristã enraizada na sociedade brasileira por séculos não encontre mais respaldo e apoio na legislação. Estes são só alguns exemplos de temores que se alastram no seio da sociedade, entre muitos outros que poderíamos citar.
Medo é um sentimento natural do ser humano. Medo da morte, medo do desconhecido, medo da novidade. Fobias são extrapolações do medo que podem incapacitar a pessoa a reagir ao objeto que lhe causa medo. Paro por aqui, não vou psicologizar meu texto, já que não tenho formação para isto. O que pretendo é demonstrar o que o medo representa enquanto sentimento moral. Para isto tomo o conceito de “medo do mundo” (Weltangst) que Walter Schulz emprega a partir da filosofia existencialista de Kierkegaard, Heidegger e Tillich. Schnurr a descreve da seguinte forma: “A experiência da quebra da ordem social costumeira e da estrutra de sentido da autocompreensão e da compreensão de mundo leva a um sentimento essencial de inconsistência, perda do lar, de estar perdido, uma falta de sentido cósmica e existencial”[2].
Schulz entende a partir da leitura de Tillich que há uma espécie de medo coletivo que leva pessoas a se unirem ainda mais ao grupo que elas pertencem, uma vez que este objetiva a resistência ao objeto que lhes causa medo. O medo só existe de fato na sua forma individual, defende Tillich, mas a experiência do medo individual compartilhada no grupo é uma das forças que consolida a união do grupo. É uma espécie de “guetização” (Ghettoisierung) que fortalece ideologias e pensamos apocalípticos que creditam a aproximação do fim dos tempos ao fim da ordem estabelecida[3].
Esta estrutura de pensamento se assemelha tanto com a concepção de Lactâncio de que o Império Romano cristianizado seria a continuidade histórica do Reino de Deus na profecia de Daniel, de forma que o fim deste Império seria concomitante com o fim do próprio mundo e a volta de Cristo. Também vejo um paralelo com o agostinianismo politico da idade Média que via na superioridade da civitas dei sobre a civitas terrena licença para a dominação da Igreja sobre o Estado. Se a formação e manutenção de grupos pelo sentimento do medo da mudança levassem apenas a uma apatia política, não haveria o que temer. No entanto, tais agrupamentos adquirem características ideológicas e ativistas na tentativa de combater reativamente o que lhes provoca medo. Nesse sentido o (re)surgimento do teonomismo no meio do evangelicalismo americano, uma forma de teologia restauracionista, aponta para a dificuldade de lidar com a presença cristã num mundo plural. Ainda mais quando esta teologia (re)surge paralelamente aos movimentos que pregam a necessidade de o evangelicalismo ser (ou voltar a ser) a religião civil americana e de que o american way of life seria (ou sempre teria sido) coincidente com a moral ortodoxa evangélica. O conservadorismo da nova direita no partido Republicano americano é, possivelmente, o nascedouro ideológico de muitos anseios da direita evangélica brasileira, que conforme José Casanova[4], utilizam o argumento da bona fide (no Brasil poderíamos dizer que é o discurso dos “cidadãos de bem”) para o apelo popular.
Voltemos para Tillich. Ele descreve em “Der Mut zum Sein” três períodos ou épocas e seus medos correspondentes: O período da Igreja primitiva foi caracterizado pelo medo do destino final da alma e o problema da morte. A resposta a este medo foi a crença na ressurreição do corpo. A Idade Média e o início da Reforma foram caracterizados pelo medo diante da culpa e da condenação. A resposta foram as doutrinas da graça com a certeza do perdão gratuito. A era moderna sofre com o medo do vazio e da falta de sentido. A este medo Tillich propõe uma fé que transcende o aspecto místico e objetificado da religião. Sua teologia prega uma fé em um Deus acima de Deus, uma fé areligiosa, fundamentada na experiência da profundidade do ser-eu-mesmo. O ser humano participaria no ser de Deus numa espécie de busca interior filosófica (um retorno existencialista ao gnosticismo??). Apesar da sofisticação da tese de Tillich, acredito que o caminho dela não consiga lidar efetivamente com os medos reais de quem não encontra mais limites, conceitos, absolutos e valores aos quais possa se apegar.
Creio que o tempo pós-moderno (se assim podemos realmente caracterizar nossa época), essa modernidade liquida conforme entende Zygmunt Bauman, onde o horizonte foi apagado (F. Nietzsche), onde não há mais certezas, limites, referenciais, absolutos, é uma continuidade da modernidade descrita por Tillich. Sintomático desse tempo é a reação violenta a esta fluidez. Uma incapacidade de lidar com pluralismo e a multiplicidade de opiniões. Percebo isto ao ler o relato de um jovem que abandonou um grupo neonazista na Alemanha.
Segundo a reportagem da Deutsche Welle[5] “a ideologia radical ajudou [o jovem] a encontrar culpados para seus próprios problemas. O melhor exemplo foi o emprego perdido: ‘Fui demitido, mas os estrangeiros que trabalhavam na empresa continuaram por lá’, rezava a justificativa”.
Ele mesmo relata que “não via aquelas pessoas que sofreram nas [suas] mãos como seres humanos.” Segundo ele: “Para mim, elas eram escória, baratas, porcaria.”
A reportagem conclui que “para seres propensos ao extremismo, pouco importa a ideologia por trás do grupo, diz o radical convertido. ‘A cena do salafismo também teria sido bastante atraente para mim: focada na ação, totalmente além do bem e do mal, e muito elitista. A pessoa faz aquilo que ninguém faz porque está lutando por algo maior. Teria combinado bem. Aí, provavelmente, eu teria uma barba e estaria na Síria.’”
O radicalismo político, com sua guerra ideológica dos “cidadãos de bem” contra a “ditadura lulo-petista”, o radicalismo religioso do Estado Islâmico contra tudo e todo mundo, o radicalismo étnico dos neonazistas, e todos os demais radicalismos que enxergam no outro uma ameaça a si mesmos são nocivos para a democracia. Não só posições extremadas do conservadorismo, mas também posições extremadas da esquerda igualitarista, pressionam por valores que deveriam ser absolutos. A armadilha à esquerda é a de que não basta tolerância e respeito, é necessário também a aceitação, o que implica que a esfera pública invade a privada e a torna refém da ideologia. Não basta que haja espaço para todos para a esquerda igualitarista. Seu argumento exige que todos sejam iguais num caráter quase ontológico. Todos precisam pensar igual, agir igual, ser efetivamente iguais. Discordâncias são “provas” de intolerância, logo combatidas como “fobias”, como nocivas à sociedade, como propagadoras de ódio e nascedouro de toda violência e assassínio. Assim como a lógica conservadora de que a sociedade florescerá quando voltarmos a ser o que um dia já fomos, a lógica da esquerda de que só floresceremos quando todos forem aquilo que a ideologia quer que eles sejam, são falsas. São utilitarismos, primeiro por transplantarem ideais e concepções particulares para um nível universal (cf. a crítica de John Rawls) e segundo por verem na sua luta algo que poderá fazer um bem a um máximo possível de pessoas, mesmo que para isto, algumas precisem se(r) sacrificar(das) (muitas vezes literalmente).
Neste jogo de esquerda contra direita, de cidadão de bem versus heróis dos direitos iguais, proponho um caminho do meio. Uma possibilidade de convivência. Uma trégua democrática. A Bíblia diz que “o perfeito amor lança fora todo o medo” (1Jo 4.18). Amor, na perspectiva da escola joanina, significa entregar-se a si mesmo em favor do outro. Amar é buscar o interesse do outro antes do seu. Há quem possa argumentar que isto é recorrer ao sentimentalismo, a um romantismo político, o que tornaria a proposta totalmente inviável, e até “inocente”. Estou consciente, como teólogo de orientação evangélico-luterana, de que o ser humano é pecador. Em termo políticos, leia-se, o ser humano é incapaz de amar de forma pura. Por esta razão a fé cristã crê na necessidade da graça que reabilita o ser humano ao amor. Mesmo assim não há qualquer automatismo nisto. Não é assim que uma pessoa cristã automaticamente ama a todos. De outro modo que necessidade haveria de termos um livro dedicado quase inteiramente ao amor ao próximo, como a primeira epistola de João ou o belíssimo capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos? O amor precisa ser anunciado a nós como um imperativo ético: “Ame o teu próximo como a ti mesmo” (Mt 19.19, 22.39). Amor é uma necessidade de convivência, não algo para praticarmos apenas quando há uma situação de vida ou morte, ressalta Lutero[6]. Um padrão elevadíssimo que nos faz perseguir um alvo ético, que não por último Lutero afirma ser a própria regra áurea “Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam” (Mt 7.12). Apesar deste alvo estar além das nossas forças, ele nos é fundamental. Aliás, no texto de Lutero supra citado ele utiliza 1João 3.17 como argumento para a plausibilidade desta tese: “Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus?”. Amor nos é exigido desta forma pois ele, além de ser um sentimento, é também uma decisão pessoal. O apóstolo nos constrange para que atentemos para o fato de que temos as condições para amar em nossas mãos, porém muitas vezes decidimos não fazer. Agimos como o sacerdote e o levita da parábola do Bom Samaritano. E não estou falando aqui sobre uma possível fundamentação de ações de sociais feitas pelo estado, falo tão somente no conceder ao outro direitos e dignidade iguais as suas! Entendo que, mesmo que você não creia em um deus ou uma força espiritual, você provavelmente reconhece a necessidade de alvos éticos para a sociedade. É isto que proponho, um alvo ético baseado no amor. Não estou falando nenhuma novidade, Martha Nussbaum já propôs algo semelhante e a seguir descrevo um pouco do pensamento dela, o que pode nos ajudar a tornar mais concreto o que eu imagino com esta proposta.
Na trégua que proponho faremos o esforço de, antes de defender a sua posição, refletir o que o seu parceiro de diálogo (não mais um adversário!) passa no seu dia-a-dia. Faremos um esforço de compaixão. Mas antes explico o que Nussbaum compreende a respeito deste sentimento moral. Compaixão compreende três elementos: a compreensão de que a situação daquele que está sofrendo é séria; o reconhecimento da ausência de culpa daquele que sofre, isto é, ele sofre por uma razão totalmente alheia a sua vontade; e por último, o valor que nos damos àquele que sofre[7]. Partindo do pressuposto que todos nós temos a capacidade de reconhecer situações sérias, alheias à vontade do que sofre e e que a pessoa tem valor por ser uma pessoa humana, então temos sim a capacidade de nos deixarmos envolver pela situação sentido compaixão pelo que sofre. Este sentimento nos ajudará a dar o próximo passo, que é o da empatia. Empatia é imaginar-se no lugar do outro, de forma a compreender a dor, o anseio, o desejo, o problema do outro. Ao fazermos isto, buscaremos uma solução que venha ao encontro das suas necessidades pessoais, mas que ao mesmo tempo ajude a saciar as necessidade do outro.
Desta forma poderemos encontrar espaços para todos, ao entendermos que não há necessidade de invadir a autonomia da esfera privada, nem há necessidade de cristianizarmos (islamizarmos, etc) a vida publica. O amor, definido como compaixão e empatia, nos permite respeitar e tolerar quem vive, pensa, e é diferente de nós. O amor lança fora o medo do outro, o medo do diferente, e nos permite dialogar em busca de uma convivência pacífica, democrática, inclusiva e plural, que pode sim permitir que cosmovisões religiosas e conservadoras coexistam com demais cosmovisões científicas, políticas e ideológicas. Para esta convivência acredito que o projeto de John Rawls de uma concepção de justiça onde o justo define o limite do bem pode ser para ambos os grupos uma boa base comum por onde se começar. Para Rawls definiríamos um conjunto de normas mínimas essenciais numa condição hipotética de igualdade e de desconhecimento dos nossos próprios valores e metas pessoais que serviriam de base para a construção das instituições públicas. Uma vez que há clareza sobre o que todos consideram como justo, já que escolheram tais princípios com base no que traria benefício para si mesmos, as concepções morais de bem seriam limitadas pela concepção pública de justiça. Trocando em miúdos. Se concordamos que temos direito a um conjunto mais amplo possível de liberdades individuais, então não aceitaremos uma ideologia que pregue que algumas pessoas devam ser escravizadas. Também não aceitaremos uma ideologia que pregue que algumas pessoas devam ser privadas dos seus bens legalmente adquiridos. O limite do bem é o justo. O justo é o que todos nós, com base no amor, que é compaixão e empatia, definirmos como tal. O medo, numa sociedade minimamente justa (ainda que imperfeita!), terá seu papel como sentimento moral diminuído e a luta ideológica por poder, pode ceder um pouco de espaço (de fato não precisa acabar!) para a construção de um projeto de pais alicerçado na justiça.
** Agradeço ao Cristiano Machado, Ivan Mizanzuk, Alexandre Milhoranza e Ivandro Menezes pela leitura atenta, comentários e sugestões a respeito deste texto.
[1] https://soundcloud.com/jornal-op-o-1/entrevista-bolsonaro
[2] Schnurr, art. Furcht III, in TRE, 761
[3] Körtner, U. Weltangst und Weltende: eine theologische Interpretation der Apocalyptik, p. 153-154
[4] Public Religions in the modern World, p.158-161,165
[5] http://www.dw.com/pt/ex-neonazista-revela-eu-poderia-ser-um-radical-salafista/a-18727612
[6] Luther, M. Über die Kräfte und den Willen des Menschen ohne Gnade (1516) in LDStA 1,16,15-25.
[7] Cf. Nussbaum M C 2013, 210-245.


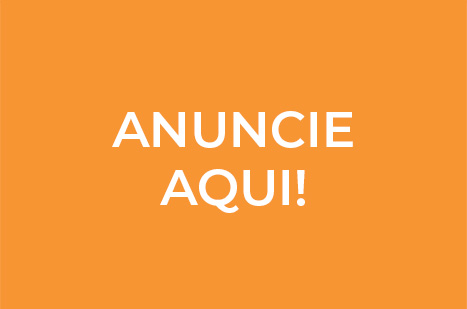

🙂
Só vim aqui pra dizer: FIRST
Salve Alex. Foi bom caminhar por onde sua reflexão me levou.
Não conhecia o pensamento de Tillich, e devo dizer que concordo com ele e o identifiquei com um outro conceito que me parece adequado, se não, ao menos bem vistoso: Transdescendência.
Acho a transdescendência de Tillich inevitável, ainda que insuficiente. Pois o ecksterior do ser-eu-mesmo continuará ecksigindo a ecksegese angustiante própria da ecksistência. Em termos da simbólica religiosa diria: o eu-mesmo é sempre o mundo e o outro é sempre o imundo.
Deste embate entre o cosmético e o caótico não se pode fugir. Aliás, isso está acontecendo exatamente agora, ao ler seu texto, me deparo com coisas que não havia pensado e tento dar conta delas, e o mesmo deve acontecer contigo ao ler este comentário. Por fim a síntese. No fim há síntese.
Por isso tomei a sua síntese como minha, tendo em vista que entendi que a sua síntese é o Amor.
E para mim esta reflexão teve sua serventia por isso, de modo que, eu poderia terminar por aqui. Porém gostaria de contribuir com a continuidade da reflexão propondo uma pequena mudança de perspectiva sobre o Amor.
Ao invés de chamar o Amor de Alvo como você fez, caríssimo Alex, eu o chamaria de Foco.
Gostaria aqui de fazer memória da origem da palavra foco, que é a mesma da palavra Fogo, que se não me engano, tem a ver também com a palavra Fonte. Desta forma, colocando o Amor como foco, não incorreríamos num aprisionamento de nós mesmos na transdescendência, mas ao contrário, encontraríamos nela motivação de ir ao encontro do outro, vencendo o medo.
Gostaria ainda de dizer uma palavra sobre a palavra medo e desenvolver um pouco mais o antônimo ético que a sua reflexão provocou em mim. (Neste baile das palavras muitas vezes corremos o risco de apenas ficarmos tontos e nada mais, mas vamos lá. rs)
Penso que, no primeiro momento, o contrário do medo/temor, não é o destemor. O que nos ajuda a vencer o medo é a atitude de Féar (o verbo parece novo, mas suspeito que não seja). Ao me deparar com o outro que, a princípio, se apresenta pra mim como caos só consigo dar um passo na direção
da superação do medo se tenho em mim o Amor como chama interna, que tanto me ordena quanto me move.
Creio que não tenho muito a dizer sobre Féar, mas conheço alguém que fala muito bem sobre isto: Joséf Pieper: http://www.hottopos.com/convenit17/65-70Pieper.pdf
Concluindo, talvez, possamos colocar o Amor como Focus e o Féar como “Tenda” (como bom cristão tenho a tentação de eleger a Esperança para fazer parte desta tríade, talvez como méthodo, mas
acho que seria demais. rs), para não sucumbirmos ao medo e à sua filha mais feia, a disconféança.
P.S.: Vai desculpando aí se escrevi alguma coisa errada…
Alexandre,
Que comentário fantástico!!!
Hoje, enquanto lavava minha louça (hora da reflexão silenciosa), pensei nas inúmeras pontas soltas e problemas lógicos que eu via no meu texto. Sabia o que devia resolver, mas não conseguiam ver como os arrumar sem arruinar o texto. Seu comentário faz isto, ao conseguir contrabalancear amor entre imperativo e indicativo da fé e de quebra ainda ampliar a compreensão do amor cristão, que é o que nos possibilita vencer o medo.
Quando lançar a versão 2.0 do texto vou te citar 🙂
Alex, me abraça! Acho que me apaixonei depois deste texto.. Haha..
Falando sério, é triste que nomes como Rushdoony, Dooyeweerd, Bolsonaro, Olavo de Carvalho, Mises, Marx, Jean Wyllys e outros têm sido muito mais consultados pelos cristãos como autoridade de crença e ação do que João, Lucas, Paulo, Pedro e outros escritores que foram realmente usados e inspirados por Deus para nos falar de Sua vontade.
Cara. Muito obrigado! Eu a muito tento encontrar um equilíbrio que inclua o amor ao próximo nesse mundo que se diz tão tolerante mas cada vez mais cheio de extremismos e intolerância. Muita gente no intuito de praticar amor ao próximo, confunde isso com a uniformização ideológica ou no intuito de manter a moral cristã acaba se tornando fundamentalista. Creio no meio termo, nem uniformização ideológica, nem fundamentalismo, mas democracia sim, que é o resultado de toda as pluralidades convivendo juntas e tentando juntas criar um mundo melhor. Precisamos tanto de liberais quanto de conservadores. Onde nossa sociedade estaria sem um dos lados? Pense numa sociedade totalmente liberal onde não há limites para o positivismo (Matrix) e uma sociedade totalmente fundamentalista onde nada que é novo seja bom? (V de Vingança)
Sensacional texto, realmente percebo que o medo tem extrapolado os níveis saudáveis na sociedade, como bem você mencionou, o medo do indivíduo tem influenciado as interações sociais principalmente no âmbito político, não digo que na nossa época mais do que no passado, visto que as realidade são diferentes. O fato é que precisamos de mais pessoas que se ocupem da forma como você tem feito, de nos alertar de forma tão embasada e esclarecedora, a respeito desta condição. Obrigado!
Uau muito bom o texto 🙂
Poderia mandar esse texto para as Comissões de Ética e Família da Câmara dos Deputados, mesmo que seja ineficaz, mas como questão de aviso. Ou melhor, testemunho.
Genial. O medo é motivador das maiores perversidades ao longo da história. A existência do contraditório deve ser encarado com normalidade. A polarização política é perigosa. É necessário o diálogo para haver democracia e para manutenção de nossas liberdades individuais, da qual destaco nossa crença. Os ânimos estão exaltados na atual conjuntura e isso vem abalando nossa tradicional hospitalidade e tolerância com o diferente. O amor, como mandamento, ultrapassa essas barreiras e traz a compaixão.